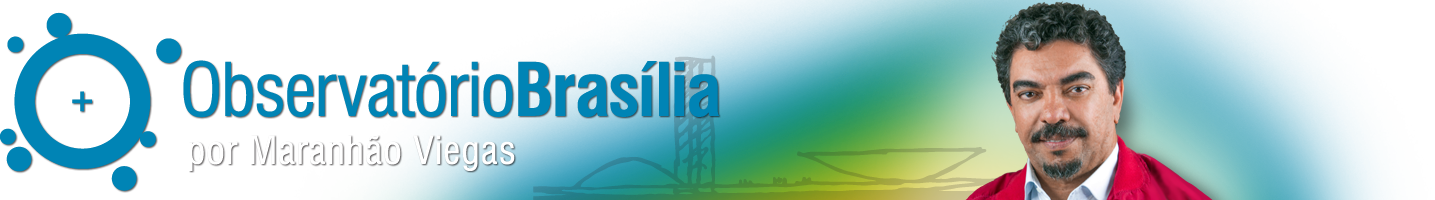Biscates, Roda Viva e messianismo

54/100
Lá pelos sete ou oito anos eu não entendia o sentido da palavra “biscate”. Lembro que procurei nos dicionários, mas a descrição não me ajudou a entender por que motivos as moças que trabalhavam na fábrica de cerâmica eram biscates. Aprendi muita coisa com esse episódio: a primeira é que os dicionários nem sempre têm a acepção que as pessoas usam. Pois sim, as moças que eu via descendo a ladeira rumo à Vila Machado“eram" isso que diziam delas e me cabia a mim descobrir a razão.
A descoberta veio com o tempo e era, claro, como sói ocorrer invariavelmente nessas situações, algo falso absolutamente. Eu tive amigas que trabalhavam na produção dessa fábrica e de outras fábricas. Se eram biscates, não fazia a menor diferença. Sei apenas que duas delas me ensinaram muitas coisas — nada a ver com o metier que se imputava a elas. Se assim fosse também, não faria diferença. Conheci putos e putas, travestis, santos beberrões, ou seja, conheci gente depois disso. Aprendi que havia uma separação entre “moças direitas”, que estudavam para ser secretárias ou professoras, e “as moças da fábrica”, que não tinham formação ou que tinham pouco formação, e que precisavam trabalhar na produção de uma fábrica. A respeito da sexualidade delas, a história vai ficando mais longa.
Do mesmo modo, outras pessoas eram grave problema de convívio humano. Os moradores da Vila Machado, logo abaixo da nossa, no geral “eram gente perigosa” e quanto mais suas casas beiravam o rio, ou seja, quanto mais precária a moradia, mais perigosas elas eram. Os negros, esses eram os piores. Perigosos também. Mesmo que trabalhassem em casa, mesmo que trabalhassem nas obras junto com pai e irmãos, mesmo que fossem comadres e comadres de batismo, crisma ou casamento, os negros eram “os negros”.
Curiosamente, não havia a consciência de que somos mestiços e a consciência de que mesmo os brancos arianos vivem os mesmos discursos e a mesma cultura já abrasileirada de costumes. Os japoneses, os eslavos em geral e outros povos sem definição "eram" sujos. Os evangélicos "eram" perdidos, porque para eles o caminho do inferno era com passagem apenas de ida, mas nada pior do que os “macumbeiros" e, sim, os espíritas. Esses eram o demônio em pessoa. Viviam como se numa bolha dentro da qual habitava o mal e cujos limites não podíamos passar e cuja sombra devíamos evitar como se evitam o ar frio e o quarto de um doente.
Havia também um alfaiate anão na casa do qual estávamos proibidos de entrar. Então, aqui temos as práticas sociais da separação dos corpos sociais: a biscate, o imigrante, o negro, o religioso, o que carrega deformidade. Se se tratasse de um mundo antigo, do qual pudéssemos dizer “mas isso pertence ao passado”, seria bom. Apaziguaria nosso espírito.
Mas ainda havia animais e havia objetos, e havia “o que não prestava”. A separação social se dá em outros espaços (sociais, culturais, imaginários). Então era de bom tom evitar o morcego, a coruja, o cão e o gato pretos, assim como o santo quebrado (levado ao cemitério), o cipreste, a “flor do cemitério”, etc. E “não prestava” andar para trás, abrir guarda-chuva dentro de casa, falar palavrão. (Quem viu minhas aulas, deve ter a lembrança do rol de proibições que eu já citei tantas vezes. Quem não viu, bem, a base do meu pensamento é Foucault, Elias, Giddens, entre outros.)
Anos depois, já na fábrica, eu entendi melhor a questão das biscates. Os chefes da montagem (predominantemente feminina) viam as moças não como trabalhadoras braçais e mães e filhas, e sim como vacas de abatedouro. Era como os chefes tivessem um harém. Não que as moças fossem biscates naquele acepção já antiga do termo, mas assim elas eram vistas, descritas e apontadas. Novas e velhas, virgens e vividas, pretas, brancas, orientais. E ai daquelas que eram desquitadas, separadas, amasiadas, em segundo casamento. Essas eram as mais perseguidas e ultrajadas.
Na mesma esteira, havia a visão — vou usar essa preposição — contra nordestinos e nortistas. E havia outras separações. Numa empresa, o processo de separação é"natural", digamos, não que seja justo. Carrega da casa, da igreja e do clube as visões de um mundo em que a separação é “natural”, pois ela faz parte das práticas sociais do cotidiano. Podemos acrescentar advérbios como “lamentavelmente”.
Bem: havia uma empresa com 400 funcionários mais ou menos, sendo 200 altamente qualificados tecnicamente — não para a vida — em instituições como ETEP e ITA. A divisão era bem clara, inclusive pelos prédios. Prédios novos para engenheiros, técnicos e diretoria; prédio velho para a produção, a mecânica e a administração. Nunca vi em quase uma década algum casamento entre um engenheiro e uma menina da produção. Do mesmo modo, nunca vi um engenheiro negro, um gerente com deficiência física ou uma diretora. Engenheiras apareceram duas ou três. Não que as pessoas não pulassem os muros… de ambos os lados. As engenheiras que trabalhavam conosco recebiam aquele olhar por cima do ombro: eram “sapatões”. Para piorar, havia uma música muito famosa, uma marchinha de carnaval, criada ou distribuída por aí pelo Chacrinha. A tevê e suas famosas formas de segregação em massa…
Vivíamos ainda a época da ditadura militar em plena consolidação do Partido dos Trabalhadores e de outros. Pertencer ao sindicato era para as classes pobres, porque engenheiros e técnicos (geralmente aspirantes a engenheiros) não se consideravam“trabalhadores”. O nome “trabalhador" ainda remetida a um país colonizado, sujo, feio e pobre. O olhar para os do prédio pobre era de despeito, pena ou excessiva condescendência… herança de um cristianismo no mínimo deturpado e relido em entrelinhas de um canônico doente.
É admirável como os discursos sobre o outro se constróem e como muitos vêm de casa. Do mesmo modo, é interessante observar como os discursos migram de território para outro e de tempos para tempos. A estrutura deles é a mesma: “não se aproxime dessa pessoa pois ela é x” . No lugar do x, coloque pobre, feia, do interior, de outra religião, com um “defeito físico”, negra, nordestina, mulher, homossexual, macumbeira, biscate.
Nos anos 1980, era comum o medo dos comunistas, afinal havia uma URSS muito perigosa, capaz de destruir o mundo em segundos. Havia outros medos, alguns confessáveis e outros não. Havia o medo do vírus da Aids. Havia o medo de um militar invadir sua casa na noite e levar seu marido ou sua filha. Mas disso não se falava. Era mais fácil cantar a marchinha de Chacrinha. O mais curioso — e aqui chego aonde eu queria — é que muitos desses medos metamorfosearam-se mas continuam os mesmos.
Percebo que grande parte do ataque ao PT diz respeito ao medo (ao preconceito, ao discurso do ódio) em relação a nordestinos e em relação à mulher. Eu concordo que a corrupção deva ser combatida e muito me envergonho de ter participado de sindicatos e do partido com os quais rompi por questões também políticas. Eu saí, e fui lutar em outros terrenos. Tenho meus pecados, sim, e meus erros. Mas considero muito asqueroso esse ódio cego por um nordestino e por uma mulher. Se o argumento é o da corrupção, ele deveria servir para qualquer outro candidato, seja ele branco, homem, católico, casado com mulher numa igreja linda.
{Bom: escrever sempre é um risco, mas tomei isso como missão de vida. Corremos o risco de haver no texto mais do que realmente há, ou o risco de o texto ser abordado de um modo que não era o objetivo.
Eu não escrevi hoje sobre quem vota em Aécio ou quem espera Bolsonaro para presidente. Escrevi sobre quem usa argumentos problemáticos para falar de uma mulher e/ou de um nordestino e mostrei algumas raízes desse modo de pensar. Mas a loucura não tem limite: já me perguntaram se eu votaria numa mulher — Dilma — que pratica sexo anal. Bem, eu me recuso a pensar no que as pessoas fazem na intimidade e meu voto em geral não passa por esse tipo de busca pessoal. O discurso do opressor, o discurso do preconceituoso e o discurso do ignorante político não tem limites éticos.}
55/100
Conta-se que a repórter nova de uma emissora foi entrevistar o arcebispo. Ela perguntou a ele como tinha sido a eleição dele. Ele explicou a ela que não tinha sido eleito e sim nomeado pelo papa. Ela teria insistido na pergunta, comparando a“eleição” dele com a “eleição” do próprio papa, Bento XVI. Bom, nas internas dessa emissora, passou-se a procurar o culpado. O culpado era um verbo abundante, o verbo“eleger”. Alguém da pauta havia escrito que o arcebispo havia sido elegido/eleito, após a morte prematura de seu antecessor e ainda como uma política no novo papa.
Isso foi verdade, narrada pelo cinegrafista e pelo auxiliar. O que foi mentira é o que veio depois. Que o RP da cúria metropolitana enviou email pedindo mais atenção com os repórteres enviados. Isso nunca ocorreu. E que a repórter haveria perguntado em que bairros da cidade o arcebispo teria recebido mais votos. Isso era mentira.
Mas foi verdade o fato de a mesma repórter chamar a juízes, promotores e bispos por“você”, para tentar uma “aproximação”. Ela não durou muito na empresa. Bem; haveria milhares de histórias sobre o mau funcionamento do jornalismo, mas quero me deter noRoda Viva do dia 04 de abril de 2016.
Caso o ministro do Supremo Marco Aurélio de Melo não quisesse voltar ao Roda Viva, ele teria declinado do convite. Ponto. Mas o juiz foi. Não preciso defender o ministro (nenhum outro, inclusive) porque eles sabem se defender muito bem. O ministro Marco Aurélio tem quarenta anos só de magistratura (38, para ser exato) e já presenciou grandes confrontos verbais do mais alto valor jurídico ao mais baixo calão. Enfrentar jornalistas não seria tarefa árdua para ele. Penso ,sim, na relevância da presença do juiz do Supremo no Roda Viva. Em dias em que juiz têm páginas no face em que publica foto da esposa portanto uma máscara de si mesmo, em dias que juízes postam do twitter mensagens misóginas e fascistas, em dias que promotores públicos não têm receio de mostrar o partido que apoiam, a presença de um ministro do Supremo num programa de televisão é absolutamente relevante, principalmente se a temperança é a tônica.
O jornalismo brasileiro vive um período infeliz. Ao lado de bons profissionais, temos os doidos. Já escrevi que “quando o doido empresta gasolina ao celerado, o diabo empresta o fósforo”. Imaginemos uma empresa (porque são empresas) de comércio de comunicação: teremos o dono, o jagunço (que é o diretor de jornalismo) e as hostes. Nas hostes temos das pessoas mais dignas às mais malucas, fascistas e celeradas. Então: o jornalismo brasileiro tem visto celerados como Azevedo, Constantino,Sherazade, etc. Mas não são celerados do mesmo grupo. Eles brigam entre si, inclusive.
No Roda Viva, havia várias presenças interessantes do Jornalismo brasileiro. Havia uma Frias, chique em preto (ato falho ou escolha premeditada?), havia dois jovens mancebos bonitinhos e mau preparados, do Valor Econômico e da Folha, repetindo aos borbotões o palavreado de botequim, que por sua vez avança para as redações, que por sua vez chega ao Roda Viva, como se, na entrevista com um ministro do Supremo, esse linguajar fosse adequado — e o mais assustador, bacana!
Conheci pelo menos três gerações de jornalistas: uma de formados ainda nos anos 1960, 1970, que eram tinhosos, soberbos, achavam que podiam tudo e que entendiam de tudo. Há entrevistas antológicas dessa fase, com jornalistas dando baforadas de cigarro na cara do entrevistado, com uma pose de Nabucodonossor. Foram abalroados pela geração dos anos 1980, 1990, não menos tinhosa, mas mais sorridente pelo menos, que estudou Economia ou Direito e que achava que podia discutir Economia com doutores da FGV e Direito com juristas como Dalmo Dalari. Tinham visto aulinhas de processos da faculdade e pensavam entender mais queDworkin.
E a geração dos anos 2000 e 2010, entre beldades loiras e rapazinhos malhados, que pensavam poder apresentar um programa de esporte, descompromissado com a verdade ou fazer matérias numa ilha isolada das costas do Iêmen, porque Sônia Bridipodia também. Obviamente, colocado nesses termos, as gerações parecem grandes blocos fechados. Não são, não são, não são. Os jornalistas foram substituindo uns aos outros, as faculdades tendo formado gente e gente e mais gente a cada ano. Foi isso o que ocorreu. Eu mesmo lecionei no Jornalismo, em Relações Públicas, e tive alunos magníficos. E trabalhei com gente inteligente, humana, bem informanda — e educada. Mas como não pensar em Paulo Francis, Lillian Witte Fibe e depois em tantos malhadinhos que surgiram depois, pipocando aqui e ali em várias emissoras e tanto na TV fechada quanto na aberta.
Eu detesto esse discurso do “antes era melhor”, “na minha época blá, blá, blá”. Cada época tem suas mazelas e suas glórias. Como em qualquer lugar do planeta em que haja uma imprensa livre (ops, outro dia escrevo sobre tal liberdade), tivemos grandes jornalistas e pequenos jornalistas. Alguns, o grande público nem conhece, porque são produtores, editores, repórteres cinematográficos, chefias. E há entre eles joio e trigo.
Nessa seara de joio e trigo, já presenciei grandes batalhas verbais internas em inúmeras salas de edição. Mas uma situação é brigar dentro de um jornal ou tevê e outra situação é discutir com um entrevistado, ou tentar “vencer" uma batalha no grito. Como tentam fazer, volta e meia, no Roda Viva.
A estrela do Roda Viva desse dia foi indubitavelmente um jornalista do Estadão e da TV Gazeta, José Nêumanne Pinto. Ele não apenas interrompia os colegas, como tentava empurrar palavras na boca de um ministro do Supremo. Tentava, como um adolescente numa batalha de perguntas da escola fazer valer o que ele achava, e o que ele achava era não apenas perverso, mas indefensável. Algo ficou muito claro na fala de Nêumanne e da dos jovens repórteres com carinhas de capa da GQ: o total desconhecimento do andamento dos processos legais, em qualquer instância.
Houve uma situação muito patética: Nêumanne tentando deixar o juiz em situação constrangedora, lembrando que a filha dele, assim como a filha do juiz Fux, tinha sido escolhida para um cargo. Ora, eu sempre expliquei aos repórteres que há maneiras e maneiras de se fazer uma pergunta. Quando o assunto é delicado, cabe ao repórter perguntar, mas não ofender, seja o entrevistado que for. Guardadas as devidas proporções, Nêumanne, ao tentar “colocar na parede” um ministro do STF, fez como aqueles repórteres de jornais marrons que entrevistam travestis desdentadas e bêbadas forçando uma fala bizarra, que será multiplicada depois na internet. Ocorre que o ministro do Supremo, em questão, é mais experiente — e não está bêbado.
Obviamente, não deu dez minutos e já havia no Face quem considerasse a postura de Nêumanne “corajosa”. Ele sabe disso, pois faz parte da pior brigada do jornalismo brasileiro, aquela que dá sangue pelas chefias e pelos donos dos jornais, que (quase) nunca vão aparecer. É o que poderíamos chamar de palhaço carniceiro.
No mesmo dia, uma “jurista" co-responsável pelo texto de um pedido de impedimento de um presidente, dança numa fala pública, lembrando algo como uma patética pole dance gospel e uma apresentação do programa do Chacrinha. Se esse é o nível das discussões jurídicas e da abordagem do jornalismo, não há como dialogar. Então, cabe a nós, professores e estudiosos, aos jornalistas, aos agentes do Direito mais pé no chão e firmeza, seriedade e atenção aos fatos históricos e jurídicos. Nem jogo de futebol se ganha no grito, nem luta em ringue, nem jogo de bolinha de gude.
56/100
Fui procurado por uma evangelizadora ano passado. Era uma manhã magnífica de sol e eu estava a ler o que costumo ler: poesia sufi ou história das línguas orientais, essas coisas sem interesse. Ela trouxe junto um menino, um garoto visivelmente envergonhado. Guardado como um tesouro junto ao peito, um livro preto, obviamente a Bíblia. Como é minha vizinha, eu desci para atender. Foi educada na abordagem: perguntou se poderia falar comigo uns minutos. Eu lhe disse que “sim”, que teria uns minutos. Foi bem direta: disse que tinha vindo me visitar para me explicar o significado da “verdadeira família”.
A sombra do pecado realmente cobriu minha casa. Foi pintada de bege pelos construtores, e não imagino pecado mais grave do que esse. Talvez ela tenha ficado sensibilizada com isso. Aqui também temos dois cães que eu chamo, meio sério, meio na brincadeira, de “filhos”. Tomo café, algo que não está prescrito no antigo testamento, e leio cosias obscenas, como Legenda Aurea, de Jacoppo de Vareze, e outras coisas mais leves, como Sade e Bataille. No meu computador eu vejo o que todo mundo vê. Em minha mesa de trabalho tenho um Buda muito provavelmente Sukhotai, pelas linhas, um garuda indonésio, um incensário vietnamita de influência chinesa, com dragões e um Ky -lê protetor, afora leões cambodjanos e um São Sebastião da década de 1920, do Rio Grande do Norte, presente do maridão. Ah, e uma cruz etíope, em prata.
Meu sangue subiu e desceu, como se diz, e pensei um pouco no que responder.
Algumas imagens recentes me fizeram pensar muito sobre isso e recordei essa passagem iluminada da minha vida. Eu, a manhã de sol, a evangelizadora, uma criança. Eu entendo as manifestações culturais. Entendo os estudos, já acompanhei pesquisas sobre o avanço da classe média feitas com grandes empresas de pesquisa para grandes corporações, leio livros de sociólogos que explicam o fenômeno da ascensão do sertanejo universitário, do funk e do rap, respeito os diversos discursos sobre black blocs, sobre rolezinhos, sobre, enfim, essas manifestações, do mesmo modo que entendo perfeitamente a mudança religiosa pela qual o Brasil passa. E faço isso do mesmo modo que tento entender a relação de poderes no Brasil.
Leio os clássicos sobre o assunto. Escrevo sobre isso. Escrever também é uma forma de tentar entender porque coloca as ideias em oredem, algo nem sempre fácil, tal a complexidade das questões. Erro e acerto. Tenho, inclusive, acompanhado mudanças similares em outros locais, lido outros autores, conversado com estudiosos do assunto, em outros países, como África do Sul e Angola, Portugal, Bélgica, Estados Unidos. Não sou avesso a nenhum tipo de conhecimento. Amo aprender e aprendo até quando odeio o aprendizado. Aliás, o ódio no aprendizado me faz tentar mergulhar mais profundamente na fala alheia. Só assim posso tentar um entendimento sobre ela. Entendê-la não quer dizer compactuar com ela ou abraçá-la.
Minha posição pode ser omissa… mas eu não me levanto de manhã no sábado com um livro de Abu Nawas debaixo do braço para convencer minha vizinha de que a verdadeira palavra é a dele. Não escrevo faixas ou toco músicas disseminando a ideia de que o amor urânico tem origem divina e na criação dos seres (tendo lido equivocadamente ou não isso em Platão). Do mesmo modo, não torturo meus vizinhos com a música de Sia (que adoro), pois isso eu ouço na balada, lá, bem longe. Também não fico na frente de casa tomando suco de clorofila, com meus amigos que tomam suco de maracujá sem açúcar, pois têm dieta do treino e tais, berrando verdades sobreRoberto Bolaño e Haruki Murakami. Também não vou à casa das pessoas com a última edição da Hommes Vogue International para mostrar que estão fora de moda. No meu carro, não há faixas do tipo “ozamantididizain” ou “ospervadaliteratura" ou“ozlocodazarte”.
O que eu aprendi com minhas terríveis leituras (e com a criação cristã que tive) foi respeitar o espaço alheio. Só isso. Sem som, sem placas, sem faixas, sem cães barulhentos, sem odores ruins, sem nada.
Eu olhei para a evangelizadora, minha vizinha, e perguntei se a criança era dela. Ela disse que sim, que era o filho mais novo. Então eu disse a ela que não falasse essas coisas horríveis na frente de um ser tão jovem. Sugeri também que jogasse aquele livro fora, pois não tinha entendido nada dele. E que ela pensasse melhor no sentido de“verdadeira” e no sentido de “família”.
{Escrevi este texto já faz um tempo. Fiz duas adaptações para ter lógica. E ele ficou ali nesse limbo que é a internet. Mas ontem, refletindo sobre a imagem de uma professora livre docente da Usp, a dizer coisas como se estivesse possuída num (falso) transe mediúnico, achei que deveria voltar a ele. Já vivemos situações muito constrangedoras na política, como a de um presidente que se deixou fotografar ao lado de uma mulher que usava uma camiseta e nada mais.
Havia um perigo ali, nessa foto: o perigo da misoginia e do machismo, etc., chancelado. E outros perigos. Mas ao ver um sujeito como Hélio Bicudo a bater palmas para sua colega a berrar sandices (que mostravam exatamente como ela estava alterada e obcecada, não importa se fosse mulher ou homem), eu pensei no quanto essas situações-limite são de fato perigosas. Vejamos: se ela estava num mau dia, e se estava alterada (e se a serpente citada por ela fosse Cardozo ou fosse Lula), podemos imaginar que a situação foi apenas infeliz. Ela, então, seria aquela pessoa alterada que numa festa foi brincar de pole dance numa haste qualquer e leva ao chão toda a estrutura construída para o casamento.
Mas se a advogada, professora, dita jurista, responsável por um documento de tamanha relevância para a história recente do país, fazia um show com ares de mediunidade, messianismo, perversão, disseminando o ódio, se ela fazia isso em sã consciência, com o aplauso de outro jurista, professor de renome, e ainda com gritos histéricos de uma plateia de reconhecida instituição de ensino jurídico, então realmente vivemos tempos sombrios e é hora de se tomar posição. Minha vizinha não tem estudo. Ela é orientada por pessoas de má índole. Jamais entenderia a complexidade histórica e mística do Eclesiastes. Mas professores da USP têm acesso à informação. Talvez tenham divergências em relação a questões da Lei, pois divergências no campo jurídico ocorrem em qualquer vertente dele — e isso é salutar. Mas disseminar ignorância, ainda com ares messiânicos e apocalípticos ou é loucura ou é um projeto danoso.}
Benedito Costa é professor de Literatura, vive em Curitiba e escreve aqui cen fragmentos em cem dias.
Veja Também
Um primeiro turno para quebrar paradigmas
10/10/2018 - 09:44
A professora de sociologia política da Universidade de Brasília (UnB), Débora Messenberg, considera o momento atual do país “um dos mais complexos da recente democracia brasileira”. Ela e o cientista político e consultor de relações governamentais Leandro Gabiati, argentino radicado em Brasília, foram os convidados do primeiro episódio do Diálogo Brasil depois do primeiro turno das eleições, transmitido ao vivo na segunda-feira, 08/10, no qual fazem uma análise do novo cenário político brasileiro.
Mentiras vendidas como notícia
06/10/2018 - 10:56
A aplicação da inteligência artificial para manipular conteúdos atingiu um nível de sofisticação capaz de enganar até especialistas. São as deepfake news, notícias falsas profundas, tema do Diálogo Brasil desta segunda-feira 27 de agosto. Para chamar a atenção para o problema, o diretor americano Jordan Peele, Oscar de melhor roteiro pelo filme “Corra!”, chegou a produzir um vídeo falso em que o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama chama o sucessor, Donald Trump, de “imbecil”.
O desafio da qualidade na educação
06/10/2018 - 10:48
O Diálogo Brasil desta segunda-feira reúne dois doutores em educação para debater a qualidade do ensino no país, que, segundo estudo recente do Instituto Paulo Montenegro, feito em parceria com a ONG Ação Educativa, ainda tem cerca de 38 milhões de analfabetos funcionais. Ou seja, três em cada dez brasileiros com idades entre 15 e 64 anos têm dificuldades para lidar com letras e números no dia a dia.
Exploração sexual de crianças e adolescentes: um crime
06/10/2018 - 10:42
Crianças e adolescentes são os elos mais fracos de diversas cadeias: a da falta de educação e saúde, do trabalho infantil, da violência doméstica e, inclusive, da exploração sexual. Só no nordeste são 644 pontos de vulnerabilidade para este tipo de crime mapeados pela Polícia Rodoviária Federal. A região que lidera o ranking é seguida pelo sudeste e pelo norte. As formas de prevenção e combate a essa violência são temas do Diálogo Brasil, comandado pelo jornalista Maranhão Viegas.
Diálogo Brasil debate financiamento de campanha e renovação política
19/09/2018 - 08:45
As novas regras de financiamento das campanhas eleitorais devem favorecer os atuais detentores de mandatos e reduzir a renovação política no país. Essa é a opinião do assessor-chefe de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eron Pessoa, e do mestre em ciência política e pesquisador associado do Laboratório de Pesquisa em Comportamento Político, Instituições e Políticas Públicas da Universidade de Brasília (UnB), Marcelo Pimentel, que estuda financiamento de campanhas desde 2012.
No que avançam os direitos LGBT?
19/09/2018 - 08:31
O direito ao uso do nome social sem a necessidade da redesignação sexual e ao casamento igualitário, a retirada da transexualidade da lista de doenças mentais e mais visibilidade para a população LGBT são conquistas que avançam na contramão do preconceito, da violência e da heteronormatividade que ainda atingem essa comunidade. E às vésperas de uma eleição federal, estes temas são fundamentais para esta parte da população que, em diversos momentos é colocada à margem dos debates.
O lixo nosso de cada dia
13/09/2018 - 08:16
Apesar da previsão de que todos os lixões a céu aberto no Brasil fossem fechados até 2014, essa meta ainda está longe da realidade. Ainda existem cerca de três mil locais deste tipo em todo o país, contrariando a Política Nacional De Resíduos Sólidos aprovada em 2010. Além disso, cada brasileiro continua produzindo mais ou menos 1kg de lixo por dia e apenas 3% deste resíduo é reciclado, de acordo com os dados apresentados no Congresso Cidades Lixo Zero. O restante vai parar nos lixões e aterros.
Feminicídios em alta
12/09/2018 - 20:58
O aniversário de 12 anos da Lei Maria da Penha, na terça-feira 7, se deu em meio a uma sequência de feminicídios, com pelo menos cinco casos em dois dias. A data ficou marcada ainda pela divulgação dos dados de 2017 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, confirmando que esse tipo de crime segue em ascensão no país.
diálogo Brasil - TV Brasil
11/06/2018 - 09:32
O programa Diálogo Brasil tem como tema desta semana a questão da igualdade racial e a luta contra o racismo no Brasil. O jornalista Maranhão Viegas conversa com Erivaldo Oliveira, presidente da Fundação Palmares e com Mario Theodoro, consultor legislativo do Senado.
Diálogo Brasil - TV Brasil -
11/06/2018 - 09:26
O Programa Diálogo Brasil, da TV Brasil, com apresentação do jornalista Maranhão Viegas, discute as soluções para o problema da falta de moradias no Brasil. No Brasil há um déficit de seis milhões e trezentas mil moradias, segundo a Fundação João Pinheiro. O problema se agravou nos últimos anos em 20 dos 27 estados brasileiros, de acordo com um estudo divulgado em maio pela instituição.