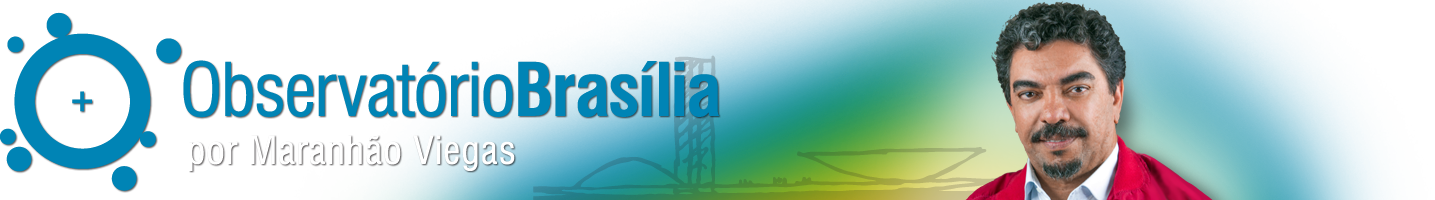51/100
Por conta do aniversário de Curitiba: a cidade que me habita em 3, 2, 1.
3. A questão é um feixe: qual dos pés Manoel teria colocado primeiro ao descer do trem? Quanto do pó de Leiria traria ele na mala de papelão e couro? O que lhe terá chamado a atenção primeiro? Certamente não vieram com ele esses sonhos modernos à Alfred Döblin, mas Pessoa traduzido ao vulgar, com lágrimas dissipadas e misturadas à vastidão da água. A praça Eufrásio Correa está a sua frente e ele vê uma árvore frondosa. Faria calor ou frio? Ele pára para comprar algo num dos quiosques franceses que Cândido de Abreu ali pousara a par com um chafariz de ferro fundido. Que moeda de troca teria usado? Seus olhos acompanham as casas em torno da praça, um hotel. A cidade faz 235 anos.
 A despeito de sua juventude, ela a ele lhe parece um pouco o que deixou em seu vilarejo de mil anos. Veio ao Brasil, afinal, e não a Macau, porém os telhados baixos de telhas arredondadas soam infamiliares. De lá vê a catedral basílica menor, para onde deveria ir rezar (?). O caminho lhe teria macerado a fé até que ela fosse um amálgama com o descaminho? Ele pousa a mala com os instrumentos de ofício e um pilão de bronze. Há uma longa estrada até o interior, aonde lá moram outros portugueses. Há um conforto da língua, que logo vira um pesadelo. Falares, eulalia. O céu é parecido, mas não serão mais as estrelas. Haverá nuvens, haverá chuva, mas raramente neve.
A despeito de sua juventude, ela a ele lhe parece um pouco o que deixou em seu vilarejo de mil anos. Veio ao Brasil, afinal, e não a Macau, porém os telhados baixos de telhas arredondadas soam infamiliares. De lá vê a catedral basílica menor, para onde deveria ir rezar (?). O caminho lhe teria macerado a fé até que ela fosse um amálgama com o descaminho? Ele pousa a mala com os instrumentos de ofício e um pilão de bronze. Há uma longa estrada até o interior, aonde lá moram outros portugueses. Há um conforto da língua, que logo vira um pesadelo. Falares, eulalia. O céu é parecido, mas não serão mais as estrelas. Haverá nuvens, haverá chuva, mas raramente neve. Há plantas distintas, mas ainda não o que ele ouviu aqui existir: um pequeno elefante, que pode ser comido por um gato gigante, que pode ser devorado por uma serpente colossal, que pode ser aniquilada pelo tempo. Mas há pessoas e objetos. Cabeças, mãos, pés. Vestidos de pequenas flores sobre os quais casaquinhos curtos. As velhas também usam saias até as canelas e há nas orelhas argolas ou pequenos pingentes de bolas de ouro. Algumas usam medalhas, em cordões. O mundo de repente se reencaixa. Haverá talvez “a” mulher, que talvez lhe dará filhos. Manoel não pensa nisso. Mas terá netos. E seus netos serão seu sangue, celta, romano, árabe, algo não decifrado, misturado a outros, pelos casamentos, afinal são tantas as comunidades, mas serão fruto dessa terra nova, a que chamam vermelha.
 2. Já o senhor Benedito chega aos 274 anos da cidade. Vê construções modernas, cujos traços já incorporou a seu trabalho. Mas aqui e ali, o sonho de Artigas, o que a ele lhe parece estranho. Essas linhas e esses cobogós. Essa cor e o concreto, que precisa ser escondido, afinal. Há prédios com colunas lá em cima, onde repousam jardins suspensos. Já há branco e preto nas calçadas, essa lembrança desarrazoada de Portugal e ainda pedras irregulares, lembrança dissolvida de tropeiros e é dessa mistura que se forma um imaginário: linhas, cobogós, concreto, cor. Que pé teria colocado primeiro ao descer do ônibus arredondado, em aço e azul? Seria inverno? Há muito que ver na cidade.
2. Já o senhor Benedito chega aos 274 anos da cidade. Vê construções modernas, cujos traços já incorporou a seu trabalho. Mas aqui e ali, o sonho de Artigas, o que a ele lhe parece estranho. Essas linhas e esses cobogós. Essa cor e o concreto, que precisa ser escondido, afinal. Há prédios com colunas lá em cima, onde repousam jardins suspensos. Já há branco e preto nas calçadas, essa lembrança desarrazoada de Portugal e ainda pedras irregulares, lembrança dissolvida de tropeiros e é dessa mistura que se forma um imaginário: linhas, cobogós, concreto, cor. Que pé teria colocado primeiro ao descer do ônibus arredondado, em aço e azul? Seria inverno? Há muito que ver na cidade.Uma caça. Seus olhos trêmulos. Pretos e pequenos. Precisa de um café, esse desejo que carregará consigo até a morte, eco dessa região entre São Paulo e Paraná, de onde veio, onde vicejam florestas com cachoeiras imensas, em cidades com nomes de santas, famosas pelo doce de leite. Sua mala é pequena, afinal, é um passageiro, no sentido mais humilde dessa palavra: o que passa, o que passa depressa. Não traz consigo Clarice ou Guimarães, mas alguns versos singelos e passagens bíblicas, embora não seja papa-hóstia. Ele limpa o lábio superior dos vastos fios do bigode. Acerta-os do lado. Ainda são negros. No fundo da xícara, não há Curitiba. Apenas borra.
 1.O último chega aos 300 anos. Seu sangue já percorreu essas ruas. Essa cidade lhe habita desde muito. Entre três capitais, escolhe essa, seguindo o caminho de seu pai e de seu avô, que desdenharam as outras. É o terceiro elo de uma corrente que talvez termine aqui. Também não traz os modernos. Tampouco amor por Leminski e Trevisan, pois não foi tocado na cabeça por esses deuses de pés alados. Chega descrente. Está frio, embora seja março. Começa a se embebedar dos símbolos da cidade, do imaginário, e do que Lacan dir-lhe-á depois chamar-se real.
1.O último chega aos 300 anos. Seu sangue já percorreu essas ruas. Essa cidade lhe habita desde muito. Entre três capitais, escolhe essa, seguindo o caminho de seu pai e de seu avô, que desdenharam as outras. É o terceiro elo de uma corrente que talvez termine aqui. Também não traz os modernos. Tampouco amor por Leminski e Trevisan, pois não foi tocado na cabeça por esses deuses de pés alados. Chega descrente. Está frio, embora seja março. Começa a se embebedar dos símbolos da cidade, do imaginário, e do que Lacan dir-lhe-á depois chamar-se real. Numa exposição, verá uma tela grande de Rossana Guimarães, e ela lhe trará conforto: há dois lírios pousados sobre uma superfície azul, salpicada de pontos dourados: são o eco de capelas e de igrejinhas coloniais do Vale do Paraíba: cheiram a café e fazendas. As curvas do Guaíra, os pilotis da Reitoria, essas coisas não se esquece. A Livraria Ghignone. Os arcos brancos das coberturas de alguns pontos de ônibus. Os primeiros sabores. Veio para ficar, como se houvesse aqui raízes. O primeiro pé, ao sair do avião, é o direito.
52/100
 No semestre em que entrei na ETEP, para o curso técnico de eletrônica, o trote (violento) foi proibido. Havia uma pequena ironia nessa proibição: proibir um trote violento não é proibir o trote — e a noção de “violência”, convenhamos, corre ao sabor dos tempos e das gentes.
No semestre em que entrei na ETEP, para o curso técnico de eletrônica, o trote (violento) foi proibido. Havia uma pequena ironia nessa proibição: proibir um trote violento não é proibir o trote — e a noção de “violência”, convenhamos, corre ao sabor dos tempos e das gentes.Os alunos entravam com medo. Éramos jovens. O grande assunto da semana era o trote. A instituição intimidava: ficava num bairro nobre, tinha alunos da elite, era considera uma das melhores do país e era famosa — também — pela virulência e pelos exageros dos trotes. Curiosamente, eu estudara no Senai. Num bairro pobre, com gente pobre, bolsista também. Não havia trotes. Claro, não quero opor ricos a pobres, bairro de periferia a bairro nobre, etc., porque cairia no mesmo lugar comum de tantos. Na turma de 60 alunos do Senai, pelo menos dois eram muito ricos. [Um deles, W., tinha sido colocado lá pela mãe com o objetivo de curá-lo de “uma vagabundagem intensa e de uma sexualidade devagar”, como ele nos dissera. Mal sabia ela que esses lugares cheios de homens são todos iguais, desde Alexandre. Outra história.] De todo modo, a diferença nesse quesito — o Senai era tecnicamente excelente, assim como a ETEP, embora tivesse laboratórios muito melhores, inclusive — me faz pensar no trote e como ele reflete a sociedade da qual faz parte.
A direção sabia que não poderia proibir de todo o trote. Proibi-lo dentro dos muros da escola (e faculdade) era levá-lo para o além-muros.
A proibição tinha um sentido muito justo: houvera mortes em universidades brasileiras devido ao trote e a própria instituição já tivera problemas com trotes violentos: alunos escravizados em repúblicas estudantis, alunos amarrados em postes, alunos sufocados com sacolas plásticas, queimados com ácido, alunos que tinham a cabeça enfiada no vaso sanitário. Belezas assim. Sutilezas assim. Uns, eram perseguidos com ironias e gozação durante todo o curso, cinco anos.
Eu tive meu cabelo raspado ridiculamente. Nós, os “bichos”, deveríamos ficar pelo menos uma semana vagando pela cidade, desse modo, e “respeitar os veteranos no que eles quisessem”: contar formigas, rodopiar até cair de tontura, subir uma escada, acendendo um degrau e descendo dois, essas coisas inteligentes, promissoras, instigantes e grandiosas. os “bichos” deveriam vagar pelas dependências da escola/faculdade com uma placa pendurada ao pescoço, com um apelido escolhido pelos veteranos. Se você pensou na placa com os dizeres “Iesus nazarēnus, rex iudaeorum”, mandou bem. Esta placa era irônica e humilhante. No ano em que entrei, Sérgio era o líder do trote. Um rapaz que estudava russo apelidou-o Sergei. Já explico a alusão.
Eu nunca fui alvo dos trotes porque ficava impassível. Quando o grupo chegava, eu fazia cara de tédio. Eles queriam que o sujeito gritasse, pedisse socorro, lamentasse, prometesse vingança, chorasse, pedisse para pararem, mostrasse fraqueza. Creio que não preciso explicar a razão de o opressor clamar ele, por sua vez, por isso. Ele se diverte com o sofrimento alheio. O trote tem, então, seu elemento de sadismo. É um jogo, como aqueles eróticos. Impossível não pensar em Bataille quando falo dos trotes: “A guerra (…) desenvolveu uma crueldade da qual os animais são incapazes (…) Essa crueldade é o aspecto humano da guerra”*, quer dizer, “humano” no sentido de “do homem” e não no sentido de “humanidade”.
O sujeito responsável pelo trote — aquele da elite do colégio e da faculdade, para quem o “bicho”, principalmente o bolsista, era/é um parasita e um indivíduo que lhe toma o espaço natural e sagrado, ou aquele recalcado, que terá na violência sua forma de se mostrar ao mundo, com poder nas mãos, com poder de decidir sobre a vida do outro, inclusive — é “humano” nesse sentido. Fosse um animal, ele abateria a presa para devorá-la ou para defender seu espaço ou sua prole; jamais para humilhá-la frente ao outro ou à sua própria comunidade. Esse sujeito é como o juiz ou como o promotor público — com espírito de uma elite à qual ele crê pertencer ou um recalcado ou ambas as coisas — que decide ser o paladino da justiça, da moral e da ética, três figuras de definição muito pessoal que esse tipo de agente do Direito carrega.
Continua Bataille: “a violência, que em si mesma não é cruel, constitui na transgressão a maneira de um ser que a organiza. A crueldade é uma das formas da violência organizada. Ela não é forçosamente erótica, mas ela pode derivar em direção a outras formas de violência que a transgressão organiza”. Agora imagine um sujeito recalcado, com problemas na família, com sua sexualidade, com suas notas no colégio (Sérgio era conhecido pela beleza e também pela falta de inteligência, num colégio repleto de pequenos gênios, e seu apelido, “Sergei”, fazia alusão à sua sexualidade dúbia: “ser-gay”), educado para considerar-se da elite que acha muito normal a empregada uniformizada que usa touca para não deixar cair os cabelos pela casa. Coloque esse sujeito com um porrete na mão ou com um martelo de juiz. Grosso modo, é isso.
Havia um “stick” (derivado do verbo “esticar”), que consistia em um grupo aproximar-se de supresa de um indivíduo. O indivíduo era agarrado e jogado para cima várias vezes, no ar, e depois deixado no chão. Daí, iam embora rindo, os do grupo. Ah, o riso, sempre o riso do opressor! Eu perguntei certa vez a um menino chamado Válter se ele não se sentia humilhado por sofrer isso todos os dias. Ele disse “que já se acostumara” à humilhação e “que era uma maneira de fazer amigos”. Não, os rapazes nunca seriam amigos de Válter, pobre, obeso, míope, etc. Toda semelhança com “O Jovem Törless”, de Musil, obviamente, cabe aqui.
O chefe do grupo que escolhera Válter como fonte de diversão chamava-se Sérgio. Se Gore Vidal fosse descrevê-lo, assim seria: “um Davi em gesso” (roubo um trechinho do excelente “The city and the pilar”). Sérgio era alto, loiro, rico, e desejo de meninos e meninas de toda a comunidade ETEP. Válter não era nada disso. Então, não preciso explicar a relação de forças entre Sérgio e Válter. Curiosamente, os valentões escolhiam essas presas “fáceis”. Não escolhiam os iguais, tampouco os fortes. No semestre em que entrei havia um menino negro forte como Mohamed Ali. Nunca vi darem “stick” nele…
Ou seja, o opressor tende a ser covarde. Escolhe o objeto não como o animal caçador escolhe a mais apetitosa das presas; escolhe o mais fraco, o que vai cair após correr um pouco.
A História registra várias formas de punição: morte, exílio, marcação na pele, aprisionamento … e exposição pública. Pensemos em como Foucault** descreve isso. O trote, que deveria ser algo positivo, então, é uma forma de punição, e escolhe a execração pública, quando não a violência. Quantos casos temos de pessoas marcadas para sempre na pele? E famílias que perderam os seus?
Nunca entendi os trotes. Entender não é bem a questão. Eu entendo a necessidade de humilhar o outro, de menosprezar, de mostrar-se superior, de ser violento: isso é para pessoas doentes. Eu entendo a doença. Mas não posso apoiar o doente violento nas suas decisões. Sérgio era doente. Válter, a presa fácil.
O trote é uma contradição em termos, mesmo os chamados “trotes solidários”. Como algo obrigatório pode ser solidário? Doar alimentos a uma instituição é uma punição? Também não entendo gente fantasiada, colorida, suja e molambenta pedindo dinheiro nos semáforos (para beber, invariavelmente) quando não se fez mais do que a obrigação: estudar e passar num vestibular, muitas vezes de instituições para as quais o vestibular é apenas algo pró-forma. Enfim: mas somos um país, por enquanto, livre e comemora quem quer do jeito que lhe aprouve. Pintar-se de guache e ir mendigar num cruzamento… é o de menos.
Os alunos da Unesp, vestidos com roupas escuras, com chapéus pontudos, publicaram uma carta certa vez na qual diziam que não estavam vestidos como membros da KKK, pois as roupas eram pretas e não brancas. É como dissessem: “ei, otários, não estamos vestidos de Hitler e sim de Mussolini”.
E é exatamente o mesmo discurso torto dos preconceituosos. Quando o preconceituoso é indagado sobre sua postura, ele diz: “calma lá; era apenas uma piada!”. Fazer calouro se ajoelhar para ser “batizado”, o sujeito vestido de preto, com sacos plásticos pontudos na cabeça, empunhando tochas, torna-se apenas “uma piada”. Do mesmo modo, o juiz que comete um “lapso”, como fosse um aluno a cometer um lapsus calami (um errinho de escrita), ao gravar fora da aba da Justiça uma conversa telefônica e ainda divulgá-la num momento de efervescência popular, ri da sociedade. E ri novamente ao pedir “desculpas”.
A ETEP, como qualquer outra instituição, era um espelho da sociedade. Havia a elite branca e rica, responsável pelos trotes, havia os jagunços, pobres e invariavelmente distantes da “beleza ideal” da Men’s Health. Havia as presas fáceis. E havia os celerados, para os quais a violência em si, a violência pura, era modo de manifestarem-se, de manifestar uma ira que tem raízes onde sabemos muito bem, principalmente na formação do povo brasileiro.
O que temos visto pelas ruas nas semanas que se passaram não difere muito do que ocorria na ETEP e do que ocorre em renomadas universidades brasileiras. Ultimamente, o posicionamento de juristas como Janaína Paschoal, juízes monocráticos, como Moro, e juízes da alta corte brasileira, como Gilmar Mendes, fazem-me lembrar Sérgio. São como Sérgio. A ironia mor reside aqui, inclusive, no fato de Paschoal defender um sujeito que torturava a própria esposa, sob a “proteção da religião”. Não quero dizer que todo doido é burro, tem recalque sexual, que todo sujeito em dúvida com sua sexualidade, ou que odeia PT, mulheres e nordestinos fará o mesmo. Mas o caminho é esse. Pelo sim pelo não, certas figuras da História recente do país andam precisando de análise. E talvez de um abraço. Mas caso você vá ler Musil, pense no perigo que andamos correndo. #somostososojovembasini [Basini foi torturado e violentado sexualmente pelos próprios colegas da instituição escolar a que pertenciam. Musil antevia os regimes autoritários que seriam um dos maiores horrores da histórica ocidental com esta pequena obra.]
BATAILLE na tradução de Cláudia Fares, pela Arx.
** Foucault lida com isso em vários textos, principalmente na fase em que investiga o sistema da prisão e as formas de atuação da Justiça.
53/100
 Se eu fosse nomear este texto, eu diria “A morte e a outra morte de Zaha Hadid”. Mas não precisa.
Se eu fosse nomear este texto, eu diria “A morte e a outra morte de Zaha Hadid”. Mas não precisa.“Há várias maneiras de lidar com o fato de que todas as vidas, incluídas as das pessoas que amamos, têm um fim”, diz-nos Elias, logo no início de seu belo livrinho “A solidão dos moribundos”, em tradução de Plínio Dentzien. Segue ele dizendo que podemos pensar que os mortos, ou pelo menos seus espíritos, sigam caminho para o Hades, o Valhala ou o Céu, e isso nos deixaria menos tristes. Podemos crer mesmo nisso, de verdade. Talvez algo similar ocorra com nossos heróis, mesmo aqueles que viveram muito tempo antes de nós.
Meus heróis já foram Marco Polo, Marie Curie, Marguerite Yourcenar… Os brasileiros costumam dizer: “ah, mas ele/ela viveu bastante, foi feliz, vai deixar saudade, deixou algo bom, construiu muita coisa, deixou bons exemplos, etc.”. É o paralelo do pensamento mágico sobre o Hades-Valhala-Céu. Tal pensamento nos conforta, quando não é apenas a má expressão dita nos velórios no momento de dor de quem fica: “ele descansou”. Em verdade, alguns lugares do pós-morte não são exatamente muito aprazíveis. As descrições do Hades greco (depois romano, anfiteatro para um inferno que se mescla com o Xeol judaico) não são muito animadoras. Aliás, não teríamos um Hades, e sim várias ideias de Hades e de submundos, de baixos mundos, de mundos inferiores. Lá, o que restou do ser humano é uma pálida lembrança dele, imagem baça do que foi, com uma voz fraca, quase inaudível.
Tais mundos inferiores têm seus correlatos em outras místicas, seja o Mictlán azteca, o Xibalba maia, os mundos do além chineses e japoneses. Na mística japonesa, por exemplo, caso o último indivíduo de uma linhagem morra, os espíritos dos antepassados desaparecerão, uma vez que não haverá ninguém para pranteá-los no aqui. Então, fico sempre em dúvida se o sujeito que morreu descansou, de fato.
Algo semelhante ocorre com nossos heróis vivos, que nos parecem tão familiares, os quais fatiamos em pedaços: o ser vivo que dá a um nome “o” nome, Zaha Hadid, e o ser vivo que tem um trabalho a ser admirado, a obra de Zaha Hadid. A maioria das pessoas não conviveu com ela, mas reconhece sua obra — e o passamento dela é de uma grande tristeza. Valeria lembrar que em épocas dramáticas como as que estamos vivendo a morte de uma pessoa querida parece mais marcante, seja a de um cantor pop como Bowie ou a de um estilista, como Courrèges, que passou despercebida.
Então, é difícil encarar a morte. Afora a morte do outro ser um aviso de nossa própria morte, a morte do outro mata-o duas vezes pelo menos: ele, o sujeito, e ele, “o” nome. Morre o nome e morre a obra, a um só tempo. O que sobra dela, a rampa de ski de uma estação em Innsbruck, a canção que fala da venda do mundo, um vestido moderno são nosso alento.
Zaha Hadid nasceu em 1950, em Bagdá. Estudou Matemática em Beirute, antes de migrar para a Arquitetura, que estudou em Londres. Nisso, já há algumas características que desejo comentar: nasceu num país dominado por homens (e qual infelizmente não é?), estudou elementos de uma longa tradição do mundo árabe, a matemática, escolheu migrar para a Arquitetura, numa época em que — pelo menos no Brasil, a Arquitetura se distancia da Matemática para se aproximar das Humanas ou de uma mescla da qual não quero falar agora, que seria o Design — , enfrentou novamente um universo masculino, teve dificuldades em impor seu trabalho e seu conceito arquitetônico, trabalhou com Rem Koolhaas, com quem estabelece um diálogo eterno e promissor, passou a ser “aceita” no meio, foi a primeira mulher a receber o Pritzker (e creio que o primeiro profissional de origem árabe), entre outras premiações que nenhuma mulher recebera.
Sua obra não foi de pronto aceita. Havia pelo menos três situações: a) a obra de uma mulher e de ascendência árabe; b) a obra estranha, ainda a ser decifrada; c) a obra de difícil execução. Embora já houvesse na Arquitetura — e no Design — elementos semelhantes aos dela (fluidos, orgânicos, além das retas com que conseguiu fazer erguer seu primeiro projeto fora do papel), ela mesma dizia que ao menos vinte anos seriam necessários para que alguns projetos conseguiam fluir do papel para as superfícies reais. E muitos deles não fluíram, embora vencedores em certames. Esperam, talvez para sempre, a execução.
Os Starchitects encontram um momento histórico propício no terceiro quartel o século XX. Entre o delírio, o maravilhamento e a real necessidade das construções, há muitos precipícios, mas há dinheiro, há tecnologia e há situações históricas favoráveis, seja o megalomaníaco milionário russo que deseja uma casa-galeria, o skeik bilionário que deseja colocar seu país na ponta do mercado da construção civil, seja o governo que deseja remodelar uma área degradada. Grandes prédios, pontes magníficas, museus extraordinários surgem nessa época.
Eu diria, no entanto, que nos últimos anos Hadid e seu trabalho sofreram alguns reveses: a decisão do governo japonês em não construir o estádio da Olimpíada de 2020 e o último prêmio Pritzker tendo laureado um arquiteto preocupado com questões mais politicamente corretas (moradia, preço, uso de materiais, obras pequenas), a decisão do governo chinês em parar as construções xenófilas, o freio nas construções incríveis nos Emirados, já que havia sido acenada anos atrás. Mas há muito mercado, seja para as próximas Olimpíadas, seja ainda nos Emirados, seja em qualquer lugar do mundo em que haja um líder ou um milionário decidido a deixar gravado seu nome para sempre.
 A obra dela, de rara magnitude, ainda espera não entendimento, mas avaliação. Não foi ela que criou elementos orgânicos, como eu disse, como fosse o prédio algo “da” natureza, com ondulações e nervuras que remetem, em alguns pontos, a plantas com crescimento livre. Não gosto muito do termo “futurista” para o trabalho dela. Ela também já foi adjetivada como “neofuturista”, seja lá o que queira dizer isso. Para mim, o trabalho dela é bem real e nosso contemporâneo, algo que vê nosso século, algo que nos olha daqui mesmo e não do passado ou do futuro.
A obra dela, de rara magnitude, ainda espera não entendimento, mas avaliação. Não foi ela que criou elementos orgânicos, como eu disse, como fosse o prédio algo “da” natureza, com ondulações e nervuras que remetem, em alguns pontos, a plantas com crescimento livre. Não gosto muito do termo “futurista” para o trabalho dela. Ela também já foi adjetivada como “neofuturista”, seja lá o que queira dizer isso. Para mim, o trabalho dela é bem real e nosso contemporâneo, algo que vê nosso século, algo que nos olha daqui mesmo e não do passado ou do futuro. As nervuras, as linhas sinuosas, as grandes naves, os focos de luz, a ondulação, a pesquisa do lugar, o material, tudo isso se casa com uma coerência desconcertante. E tal coerência é vista desde um colar, passando por uma bolsa até chegar a uma grande fábrica. Uma palavra muito usada para definir ou descrever o trabalho dela é “fluidez”. Nem todos os trabalhos são fluidos, nesse sentido. Alguns são mais abruptos, têm mais retas, são mais “agudos” e sua incrível capacidade de verificar o ambiente em redor explica isso muito bem, como é o caso do projeto de Hong Kong, que não foi realizado. E não à toa a própria arquiteta citaria em entrevistas Oscar Niemeyer, por exemplo, como uma fonte senão de inspiração, de respeito. A “frieza” de Niemeyer que o levava a conseguir fluidez com o concreto choca mesmo, até hoje.
Um dos textos mais admiráveis da arquitetura é o de Vitrúvio. Diz ele, no século I. A.C. que “o arquiteto deve conhecer a arte literária, para que possa deixar uma marca mais forte através de seus escritos. Também deverá ser instruído na ciência do desenho (…) enquanto que a geometria proporciona à arquitetura muitos recursos [assim como] a óptica”*. E ele conhecia muito bem esses recursos, assim como estudou profundamente a voz humana (de acordo com o pensamento grego) para poder elaborar projetos de anfiteatros. Gosto de imaginar o quanto de Vitrúvio teve Hadid ao imaginar a Guangzhou Opera House.
Quinze séculos o separam de Rafael, o qual, em carta ao papa Leão X, diz que se sente obrigado, em relação a Roma, a empregar todas as suas forças “para que continue vivo, o mais que possível, um pouco da imagem, e quase a sombra desta cidade que, na verdade, é a pátria universal de todos os cristãos e [que era triste que] os homens fossem acreditar que fosse isenta da morte e destinada a durar eternamente”**. Rafael refere-se a um dos nomes de Roma, “cidade eterna” e lembra que Roma não apenas foi destruída, como continuava sendo, nas escavações de seu tempo, quando peças antigas eram trituradas e queimadas para se fazer massa. Ele lembra ao papa a importância de se preservar não apenas a memória de Roma, mas a necessidade de se construir coisas como ponte para o eterno. Aqui temos não o arquiteto do palácio e do templo, mas o arquiteto das cidades, o urbanista. No discurso de recebimento ao Prêmio Pritzker, teremos uma Zaha Hadid também arquiteta e urbanista, repetindo Vitrúvio e Rafael, dando-se as mãos num arco de pelo menos dois milênios.
As cidades estão infestadas de construções com o nome do sujeito que mandou erigir isso e aquilo. Está lá a placa: Agrippa fecit, Trajano fecit. Também não é incomum sabermos o nome do soberano que mandou levantar famosos templos ao redor do planeta, como o Taj Mahal ou os templos de Rajaraja. No entanto, talvez não saibamos o nome do arquiteto. Mas sabemos quem mudou Paris. Intuo que o mundo moderno deu nome ao arquiteto, seja o Le Corbusier da cidade indiana de Chandigarh, seja alguém da Bauhaus ou da escola de Ulm. Mas é curioso observar como o nome do arquiteto passou a ser ligado à obra. Não em vão o Qatar convidou I. M. Pei para projetar o museu onde se encontra a maior coleção de arte islâmica do mundo e não em vão o escritório de Jean Nouvel foi convidado para projetar um museu para receber a coleção particular da família real.
Outros grandes centros de arte foram desenvolvidos ou ampliados pelo mesmo escritório, que leva o nome do arquiteto. Da mesma forma, em vários lugares do mundo, mesmo em localidades remotas ou fora do circuito das grandes construções, prédios começaram a ser erigidos, seja o Ordos, na Mongólia interior, ou o Heydar Aliyev Center, no Azerbaijão, da própria Zaha Hadid. O nome do arquiteto passou a fazer parte do “fecit”. E nem sempre há uma feliz união de nomes, como ocorreu com JK e Niemeyer. Em muitos casos, sobra o nome do arquiteto. O monarca (para o bem ou para o mal) desaparece.
Em homenagem a Niemeyer, eu disse que “o arquiteto sonha coisas concretas num mundo móvel”. Algumas coisas, como disse, nunca saem do papel — e são próximas a nós porque o mundo tecnológico nos permite “ver” coisas concretas e móveis ao mesmo tempo. Eu, procurando por uma foto da arquiteta, vi Zaha com uma equação matemática sobe sua cabeça, como fosse um animal protetor, uma integral definida de - ∞ a + ∞. Claro que sorri. Ela, matemática antes de ser arquiteta, sorriria também.
Imagine uma forma matemática que pudesse calcular a área de algo de um infinito a outro (tecnicamente, não é isso que ocorre, eu sei, nessas integrais impróprias…).
Finalizo com Elias Canetti, com um dos seus pensamentos sobre a morte: "Morre-se muito facilmente. Teríamos de morrer com muito mais dificuldade.” ***
*Vitrúvio, Tratado de Arquitetura, em tradução de M. Justino Maciel.
** Rafael, Cartas sobre Arquitetura, em tradução de Luciano Migliaccio
*** Elias Canetti, Sobre a morte, em tradução de Rita Rios