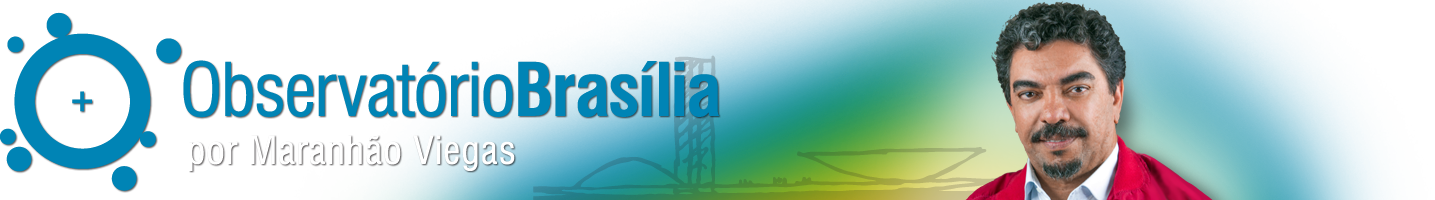47/100
 É domingo de ramos e os fiéis levam as palmas que encontraram. Não é tão simples encontrar folhas de palmeira no bairro. Alguns levam folhas imensas, decoradas com flores. Outros trançam-nas, ao modo indígena. Não gosto. Prefiro as folhas virgens. Não entendo muito bem onde as encontram e por que fazem isso. As famílias mais ricas conseguem essas folhas raras. Ficam mais à frente. Estão perto do altar, onde antigamente seus ancestrais eram enterrados, perto do céu, segundo o monsenhor Luís, porque o altar é o céu, a nave é o purgatório e da porta para fora encontra-se o inferno.
É domingo de ramos e os fiéis levam as palmas que encontraram. Não é tão simples encontrar folhas de palmeira no bairro. Alguns levam folhas imensas, decoradas com flores. Outros trançam-nas, ao modo indígena. Não gosto. Prefiro as folhas virgens. Não entendo muito bem onde as encontram e por que fazem isso. As famílias mais ricas conseguem essas folhas raras. Ficam mais à frente. Estão perto do altar, onde antigamente seus ancestrais eram enterrados, perto do céu, segundo o monsenhor Luís, porque o altar é o céu, a nave é o purgatório e da porta para fora encontra-se o inferno. Os ricos do bairro sempre estão lá na frente, seja nas missas ou nas procissões. Têm lugar privilegiado nas laterais do altar e ganham posições especiais nas procissões, pois seus filhos têm dinheiro para comprar roupas de reis e de rainhas, em veludo e bordados, para os festejos, ou asas de anjo de plumas de verdade, nas procissões. As crianças negras e as crianças com asas de tecido ficam atrás porque é assim. As coisas são assim.
Há uma praça lá fora, com petit pavé, onde montam o parque de diversões em julho e onde há barracas de doces nas festas. Há uma estrela no meio da praça, construída de modo a ficar mais baixa que o chão. Então, seu contorno estelar funciona como um grande banco, onde se sentam casais de namorados ou pessoas idosas. Usamos essa estrela, quando está vazia, para fazermos uma brincadeira: quem chegar mais rápido ao outro lado da estrela ganha, após alguém gritar “já!”. A brincadeira ganha esse nome: já. Então, não consigo enxergar o inferno aqui, do lado de fora. Mas o monsenhor Luís é um homem sério e grave, que mora ali ao lado e deve saber o que fala.
Conta histórias terríveis na missa das crianças, sobre monstros em labirintos, que são o diabo, e a história de um rapaz que casa com a mãe e depois fura os olhos. A história é terrível, mas sei que é sua história predileta, embora nunca a encontre na Bíblia em quadrinhos que ganhei, trazida de Aparecida. Do outro lado da casa dele, há um bar que vende pão com banha derretida. Comemos isso quando o senhor Antônio monta uma tela em cima de sua Kombe branca para exigir filmes de Mazzaropi aos sábados.
Para nós, o paraíso: tudo é perto: a escola é ao lado da igreja, as aulas de catecismo são na casa paroquial, ao fundo dela, a praça é nosso lazer e ainda temos o pão com banha derretida. Com sorte, maçãs do amor em julho. Tudo gira em torno desse lugar. É dali que as coisas todas nascem.
A mãe diz que é bobagem levar folhas muito largas e grandes. O padre dissera: “quem não as encontrasse que levasse folhagens de qualquer tipo”, erva-cidreira por exemplo, que já voltaria para casa benzida para o chá. Há uma missa. As folhagens estão lá. As pessoas as levantam para receberem a bênção. De volta às casas, ficam na parede um ano inteiro. São santas. Não se pode tocá-las. Vão ficando feias.
Ninguém tem coragem de fazer chá com elas. E há sempre galhos frescos para o chá.
Moram ali na parede um ano ao lado de um terço gigante, de madeira. As que ficam na igreja, as que foram levadas de casa, após um ano de espera, ou as novas, lembrança da entrada do Filho do Homem na cidade, montado numa besta, serão incineradas com as demais flores do altar. Serão as cinzas do ano seguinte. Essa cinza virá parar nas nossas cabeças, com as palavras “lembra-te que és pó e ao pó voltarás”, que também não entendo. É um dia triste esse.
As pessoas andam severas e não se pode brincar ou sorrir. E assim passam-se os anos, com palmas e flores incineradas, que marcam o tempo, as estações, a constante e viva e forte presença do ciclo nascimento-morte, diz em outras palavras, o monsenhor. Não entendo muito bem. Tenho oito, nove anos. Quero ir à feira. Há pasteis e uma barraca onde se vendem homenzinhos de plástico com roupas de cruzados.
 Tenho uma coleção que cresce e a cada domingo volto para casa com um desses, com a parca mesada. O sagrado fica no caminho. Os homenzinhos custam o dobro do preço do pastel. Então, preciso escolher: dois domingos sem pastel igual a um homenzinho. É bom ir com um adulto, pois ele pode comprar o pastel e eu o homenzinho. Também meu sobrinho, quando passa temporadas em casa, vai comigo e junta sua mesada com a minha. Eu cuido dos homenzinhos de plástico dele. Ele prefere os índios em cavalos. Eu prefiro os cruzados. A coleção é linda e um dia vai sumir numa mudança. Enfim.
Tenho uma coleção que cresce e a cada domingo volto para casa com um desses, com a parca mesada. O sagrado fica no caminho. Os homenzinhos custam o dobro do preço do pastel. Então, preciso escolher: dois domingos sem pastel igual a um homenzinho. É bom ir com um adulto, pois ele pode comprar o pastel e eu o homenzinho. Também meu sobrinho, quando passa temporadas em casa, vai comigo e junta sua mesada com a minha. Eu cuido dos homenzinhos de plástico dele. Ele prefere os índios em cavalos. Eu prefiro os cruzados. A coleção é linda e um dia vai sumir numa mudança. Enfim. A feira começa com os pastéis, parte para peixes e frango, cujo cheiro é enjoativo, muda para barracas de picles, onde todo mundo põe a mão para roubar um pedacinho de picles — e o dono da barraca sabe disso e disfarça não vendo, pois o picles é a porta de entrada para comprar outras coisas, como um doce de maria-mole coberto com chocolate. Não entendo como as pessoas que acabam de sair da missa possam roubar picles. Minha mãe diz que não pode, mas pedir sim. Se o dono da barraca deixar, podemos comer um picles branco, bem azedo.
Minha mãe não compra isso porque diz que essa comida é de bêbados. Gente que bebe come essas coisas — e isso é incorreto.
Depois a feira fica chata porque vem as barracas de roupas e de objetos para cozinha, onde se compram borrachas para a panela de pressão e onde se consertam panelas tortas. As roupas são muito feias. Já não se vendem mais os paletós que eu usava quando era menor. Havia paletós para crianças, iguais aos de adulto. Meu pai dizia que aquela roupa era a verdadeira roupa para um homenzinho (o real e não o de plástico).
E depois, frutas e verduras. Tudo banal e sem graça. Entre uma coisa e outra, estão duas barracas com flores. As rosas meu pai as compra todos os domingos para minha mãe. Outras flores são proibidas porque são “flores de cemitério”. Nesse domingo, eu espero pelo outro. Haverá um almoço como o de de Natal e o de Ano Novo e depois, ovos de chocolate, que o padre diz que não representam a Páscoa… mas são muito bons.
[Neste domingo de ramos não vi nada relativo ao domingo de ramos. Os discursos das pessoas são como essas nuvens de milhares de pássaros ou peixes que se movimentam no ar ou nos oceanos fazendo volteios. Algaravia, galimatias, para quem prefere algo mais erudito, e muito ódio, lembrando, de certo modo, algo que ocorre durante a semana santa, quando se recorda de um julgamento injusto.
Não sou religioso, mas sempre me pego a pensar se a prática religiosa não seria uma saída para a falta de ética generalizada. Lembrei da minha infância e hoje, neste domingo de ramos, não tive saudade, mas pensei na infantilização dos discursos e das práticas. Como algumas pessoas ainda vivem aquela infantilização do menino da feira que eu fui, desejando coisas inanimadas como um soldadinho normando, roubando picles da barraca, saindo da missa e esquecendo lá dentro todas as práticas éticas que o monsenhor Luís, grande homem, ensinava. E odiando. Odiando profundamente.
Não creio que as religiões pudessem salvar o mundo de sua iminente bancarrota, afinal igrejas são tão corruptas quanto a justiça e a política, mas o sagrado e sua prática poderiam, sim. Pena o sagrado ficar na forma de símbolos mortos como as folhas de palmeira e ovos de chocolate, e pena as igrejas repetirem lá dentro a estrutura medieval ou colonial de aqui fora, o inferno.]
48/100
 O flandreiro morava numa casa sem móveis. Tinha dois filhos, muito louros, de olhos verdes, um casal. Ensinava ao filho homem seu ofício, o de fazer lâmpadas de folha-de-flandres. Tínhamos parado em Itapipoca, a caminho de Jijoca — o irmão de um amigo amigavelmente fora nos mostrar a cidade. O flandreiro fez questão de tirar fotos conosco. Ainda tenho uma foto dele e outra do filho dele segurando feliz uma lamparina. Ele me disse que as pessoas não andavam comprando seu produto. Eram vésperas do Natal de 1988. O filho dele também não desejava continuar o trabalho do pai.
O flandreiro morava numa casa sem móveis. Tinha dois filhos, muito louros, de olhos verdes, um casal. Ensinava ao filho homem seu ofício, o de fazer lâmpadas de folha-de-flandres. Tínhamos parado em Itapipoca, a caminho de Jijoca — o irmão de um amigo amigavelmente fora nos mostrar a cidade. O flandreiro fez questão de tirar fotos conosco. Ainda tenho uma foto dele e outra do filho dele segurando feliz uma lamparina. Ele me disse que as pessoas não andavam comprando seu produto. Eram vésperas do Natal de 1988. O filho dele também não desejava continuar o trabalho do pai.O flandreiro é mais uma dessas profissões que vão desaparecendo. Temo que professores de português também. Já explico.
Imagine a seguinte situação: sua miopia aumenta. Você vai ao oftalmologista. Senta-se frente a ele. Exige que ele lhe receite Cetoconozal. Provavelmente, ele tentará lhe explicar que você precisa de lentes novas e não de medicamento para fungos.
Assim me sinto todas as vezes em que alguém me pede para ensinar crase, crendo que determinado grupo vai melhorar com esse tipo de “gramática pura”, para usar expressão do mesmo Bakhtin que citarei daqui a pouco.
Cheguei no horário combinado e fui recebido por uma mulher muito bonita; certamente, pelos traços, descendente de eslavos, falante. Jovem. Perguntei por que razões havia me chamado, um especialista em comunicação empresarial, etc. Ela era do Marketing, mas responsável pelos cursos de aperfeiçoamento de uma equipe responsável pela comunicação externa e interna de uma grande empresa. Após enumerar umas dez expressões em inglês (confesso que tenho preguiça dessas nomenclaturas, quando são apenas ufanistas e vazias) que definiam o projeto de aperfeiçoamento da equipe dela, explicou o porquê da minha presença ali: eu deveria ensinar crase e o Novo Acordo Ortográfico para elas (era uma equipe de mulheres), no que tangia ao uso de hífen.
Eu ouço profundamente o que as pessoas têm a me dizer, mas confesso também que às vezes fico em dúvida sobre como começar uma resposta que não soe agressiva ou esnobe. Mas vejo um filme da minha frente. As cenas mostram autores que eu li. E quanto mais arrogante meu interlocutor, mas preguiça eu tenho. Essa jovem era a arrogância personificada. Mas preciso trabalhar.
Olhei para ela como olharia para uma criança perdida num shopping, confusa entre a falta da mãe e o brilho de uma “cand shop” qualquer [usei a expressão em inglês para valorizar meu passe]. Resumo: em poucos minutos expliquei: a) que talvez eu não fosse o profissional que ela esperava; b) que cada equipe tem características e necessidades — e que cada caso necessita de uma avaliação para se descobrir quais as questões e os caminhos; c) que o ensino da crase, por si só, e o do Novo Acordo, por si só, não garantem boa escrita, boa comunicação, riqueza, o uso das variantes da língua, etc. Tentei traduzir Bakhtin em latim vulgar — e disse que estaria à disposição. Este é o trecho de Bakhtin que me veio à mente: “As formas gramaticais não devem ser estudadas sem que se leve em conta seu significado estilístico. Quando isolada dos aspectos semânticos e estilísticos da língua, a gramática inevitavelmente degenera em escolasticismo.” *
E aqui voltam os flandreiros. Creio que professores de português sejam como os flandreiros: estão em extinção. No caso dos flandreiros, não sei se ainda existem. As lamparinas foram se tornado desnecessárias e tal declínio decretou o desaparecimento quase completo desse artesão.
 Em relação aos professores de português, aqueles antigos, que dominavam a crase e o nome de dez orações subordinadas, esses devem extinguir-se mesmo. Devem ceder lugar a professores que trabalhem a língua de modo mais efetivo. O maior desafio dos professores de português não é o ensino da norma culta.
Em relação aos professores de português, aqueles antigos, que dominavam a crase e o nome de dez orações subordinadas, esses devem extinguir-se mesmo. Devem ceder lugar a professores que trabalhem a língua de modo mais efetivo. O maior desafio dos professores de português não é o ensino da norma culta. Dias atrás, falei dos revisores e dos corretores de texto. Esses, sim, dominam um naco de uma estrutura bizarra dentro da grandiosidade da língua. Para eles, o desafio é outro: é domar uma coisa que talvez não se dome [tenho lido muitas traduções recentes e algumas mudanças já são visíveis, como o uso de pronomes no começo de orações e após vírgulas, a desistência de se flexionar verbos apassivados e ainda o uso de “bebê” no feminino].
O maior desafio para o professor de português é extinguir mitos, como essa ideia quase inquebrantável de que crases e uso de hífen (sim, esse é o grande mistério do Novo Acordo para o leigo e que se danem os outros 21 pontos do acordo, é o que ouço) salvam um texto de sua miséria. Outro mito odioso: a língua portuguesa é a mais difícil do planeta. E há outros, mais perversos ou menos perversos.
Sobre a questão da norma, cabe ao professor uma grande peregrinação pelos caminhos que expliquem texto, contexto e a relação entre quem escreve e quem lê. Sobre as dificuldades gramaticais, bem, o caminho é longo também, mas cabe comparar o sistema da escrita do português com o de outras línguas. (Daí entra a questão: até onde vai o conhecimento do professor sobre isso?)
Tudo isso ocorre com o risco de se chegar ao fim de um curso e a maioria continuar achando que gramática pura resolve tudo, embora nunca a aprenda, o que é mais enervante e revoltante, e que o português é a língua mais difícil do mundo, e tal.
E, claro, falemos da postura de certos gestores, que corrigiriam o latim do cardeal Ratzinger. Ao chamá-lo para um curso, diriam: “Chamamos o senhor aqui, cardeal, para falar sobre a fé cristã. Achamos que Agostinho e Aquino estão ultrapassados. Então, o senhor deve começar por Bakunin”.
O inquebrantável: a) a confiança cega em algo chamado “gramática”, sem se saber como isso funciona e o que é exatamente; b) o professor/a despótico/a do passado, que incutiu isso na cabeça do sujeito e a força que esse tipo de discurso tem, após décadas de tentativas da Linguística de quebrar isso; c) a facilitação que essa crença traz: é muito mais fácil acreditar nisso do que desejar e querer mudar… Em quase todos os lugares que eu visito percebo uma grande preguiça, mesmo daqueles que usam o texto escrito como uma ferramenta diária de trabalho.
Mas consegui grandes e vibrantes conquistas com a aplicação da “língua viva” no ensino do português escrito. Falarei sobre isso quando for oportuno.
E finalizo com Bakhtin, novamente: “O sucesso da missão de introduzir o aluno na língua viva e criativa do povo exige, é claro, uma grande quantidade e diversidade de formas de trabalho.” Daí, a questão é mais profunda.
BAKHTIN, Mikhail. Questão de estilística no ensino da língua. Tradução de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo, Ed. 34, 2013.
49/100
 Durante a semana posterior ao dia 13/03/2016, eu ouvi muitas pessoas e li a maior parte dos textos que me caiu em mãos, das mais diversas vertentes. No fundo, as vozes diziam, parecia, a mesma coisa, apontavam para uma coisa, referiam-se a uma coisa (que fosse similar ou parecida). As vozes diziam “não à má forma de governar”. Não era um “não” à corrupção, porque o sujeito da rua também é corrupto no seu dia a dia. Outra história. Entretanto, todos sabemos que a palavra é muito mais que referência a um só objeto e nem vou me dar ao trabalho de procurar o trecho em Lacan para embasar isso. Cada grupo na rua (o do dia 13/03 e o do dia 18/03) reclamavam de diferentes formas de governar. E temo que cada pessoa, ali, no Centro de Curitiba, no dia 13/03, tinha sua própria ideia de “corrupção” e “mau governo”.
Durante a semana posterior ao dia 13/03/2016, eu ouvi muitas pessoas e li a maior parte dos textos que me caiu em mãos, das mais diversas vertentes. No fundo, as vozes diziam, parecia, a mesma coisa, apontavam para uma coisa, referiam-se a uma coisa (que fosse similar ou parecida). As vozes diziam “não à má forma de governar”. Não era um “não” à corrupção, porque o sujeito da rua também é corrupto no seu dia a dia. Outra história. Entretanto, todos sabemos que a palavra é muito mais que referência a um só objeto e nem vou me dar ao trabalho de procurar o trecho em Lacan para embasar isso. Cada grupo na rua (o do dia 13/03 e o do dia 18/03) reclamavam de diferentes formas de governar. E temo que cada pessoa, ali, no Centro de Curitiba, no dia 13/03, tinha sua própria ideia de “corrupção” e “mau governo”.Fico feliz que no dia 13 as pessoas possam ter saído às ruas manifestarem seja lá o que cada um estivesse sentido. Afinal, manifestar-se é um direito do cidadão, que o momento histórico pós-ditadura permite. Mas gostaria de deixar registrada para a posteridade minha vergonha. “Nunca tive tanta vergonha de ser brasileiro…” E tenho ciência — e faço isso propositadamente — que uso a mesma estrutura frasal que muitos dos dali: “tenho vergonha de ser brasileiro nesse momento”. Ora, o que isso quer dizer mesmo? Se não é uma tautologia, é um idiotismo. Vergonha de quem, do quê, vergonha para quem? Ter vergonha não retira ninguém de uma situação constrangedora, por exemplo. Mas no dia, eu tive medo mesmo. E tive momentos que, espero, me façam rir daqui a um tempo, espero que não de dentro de uma prisão pelos meus escritos e por minha postura.
No restaurante de classe média alta, um grupo usa camisetas amarelas com os dizeres “Quero meu país de volta”. Uma das moças usa uma camiseta com os dizeres “Messi, melhor do mundo”, nas costas. Seu companheiro porta jaqueta da Diesel e camiseta Abercrombie. A mãe (?) carrega uma bolsa Michael Kors. Não bastasse a já clássica camiseta da CBF contra a corrupção, Diesel, Abercrombie e Messi entram na ideia de brasilidade desses agentes políticos. Há velhinhos com guache amarelo e verde no rosto enrugado e isso tudo parece fazer parte do, como diriam, “dress code” do dia.
Falando em brasilidade, não posso deixar de observar que símbolos do Brasil perdem sentido e ganham outros, entre a agressividade e a cegueira política. As pessoas não apenas portam bandeiras do Brasil, pintam o rosto, usam faixas na cabeça, buscam no guarda-roupa qualquer coisa que componha um conjunto com as cores da bandeira. É um tipo complexo de carnavalização. O que era para simbolizar o Brasil, bem, simboliza-o, mas da pior maneira possível: mostra o fascismo que está escondido por detrás desses símbolos.
Nunca fui muito ligado em usar camisetas amarelas. Já as usei. Me ajudaram aqui e ali a me mostrar brasileiro, por motivos os mais estapafúrdios. Como tenho perfil árabe e ainda uso barba, não é incomum ser barrado em aeroportos, um pouco mais do que outros brasileiros, até mostrar que tenho formação cristã, moro no Brasil, não tenho passagem por nenhum país do “novo eixo”. A camiseta amarela ajuda um pouco. Já me perguntaram se sou jogador de futebol e, como respondo que não tenho mais idade para isso, me perguntam se sou da comissão técnica…
Mas já usei amarelo, já usei azul. Mas sempre usei preto. Os anos 1980 foram a década do preto (ainda que mais uma vez e não a última, etc. e tal). Fui adolescente nessa época: nada mais natural que usar preto. Ponto. Era elegante. Agora me sinto roubado. Nem amarelo e nem preto. O amarelo passou a ser usado por um grupo de fascistas perigosos com os quais não quero me identificar e o preto, idem.
 Ainda misturam essas duas coisas, em bandeiras do Brasil com uma faixa preta atravessada. Enquanto gritam que querem “seu” país de volta, eu grito que quero minhas cores da liberdade: amarelo, preto, vermelho, azul, o branco. Achei que não viveria para ver o que começa com uma palhaçada e termina com uma manifestação perigosa e que amedronta.
Ainda misturam essas duas coisas, em bandeiras do Brasil com uma faixa preta atravessada. Enquanto gritam que querem “seu” país de volta, eu grito que quero minhas cores da liberdade: amarelo, preto, vermelho, azul, o branco. Achei que não viveria para ver o que começa com uma palhaçada e termina com uma manifestação perigosa e que amedronta.O analfabetismo político deu certo. De fato, se houve um plano de imbecilização da população em relação à discussão política, ele deu certo, capitaneado por vários governos sucessivos e tendo como jagunça a mídia PIG.
Após sofrer visíveis ameaças por conta da minha jaqueta vermelha, guardo-a na mochila. Mas resolvo dar uma volta na concentração do encontro, que ocorre na Boca Maldita, palco de antigas manifestações, algumas de cunho ultradireita: vejo ali a esposa de um rei da construção civil, que me confidenciou “estar ganhando mais dinheiro do que nunca” nessa “crise”, dias antes, num jantar; acolá vejo a diretora de uma conhecida empresa à beira da falência, por uma igualmente conhecida má gestão, levando a tiracolo sua gerente, a quem trata como capacho; mais além, o filho de um famoso latifundiário que fez fortuna nos anos 1980-1990, um rapaz cuja vaga na faculdade de Medicina foi comprada pelo pai, ao valor, segundo consta, de 50.000 reais; não muito longe dali, um rapaz gay, loiro, de camisa pólo, com um cartaz com os dizeres “Bolsomito para presidente”. Foi o bastante. Isso não é ficção: conheço essas pessoas. Curitiba não é tão grande assim.
Dialogar na democracia é primordial, mesmo que dialogar com o inimigo. Mas não entendo gays lado a lado com seus algozes, não entendo alguém que compra vaga numa universidade “lutar” contra a corrupção, não entendo líderes de empresas a defender um grupo que comerá pelas beiradas os direitos adquiridos pelos trabalhadores após muita luta e muito sangue. [Siiiiiiiiiiiim. Eu sei! Nem todas as pessoas ali tinham esse perfil. Mas quero deixar registrado meu sentimento: muita gente ali queria sangue nesse dia — meu susto, minha preocupação. Não falo de instinto.]
Há uma nova síndrome vivida por algumas dessas pessoas, a Síndrome de Malinche. Dormir com o inimigo, casar com o inimigo, gerar filhos com ele. Sei que franceses entregaram franceses, sei que alemães entregaram judeus, sei que negros venderam negros, sei que americanos entregaram descendentes de japoneses, nos anos 1940, após decisão de Roosevelt. Vendo essas pessoas na Boca Maldita nesse nefasto dia 13, eu tive a certeza de que a história andava repetindo alguns fenômenos. Parte das pessoas que eu vi ali fariam isso sem pestanejar ou ruborizar.
Há duas narrativas que guardam semelhanças e afastamentos, uma de Lu Xun e outra de Gógol: “Diário de um louco” ou “Diário de um demente”. Quero me deter na narrativa chinesa. Nesse conto de Lu Xun, de 1918, um interno de um hospital para dementes crê que todas as pessoas sejam canibais. Ele pensa isso do próprio irmão. Crê que o irmão tenha servido a carne da caçula da família sem que a mãe e ele soubessem. Sente-se perseguido por todos.
Eu saí da Boca Maldita, nesse dia 13, pensando se eu não estava dentro do conto do escritor chinês. Pensei que deveria estar ficando louco e que precisava de cuidados médicos. Analisando depois o depois, o que veio em seguida (jornais, face, conversas de rua, etc.), vi que não. Quem me dera ser um demente de um conto chinês de 1918!
Benedito Costa é professor de Literatura. Vive em Curitiba e segue compondo um mosaico desse novo e estranho Brasil do início do Século XXI que vamos vivendo.